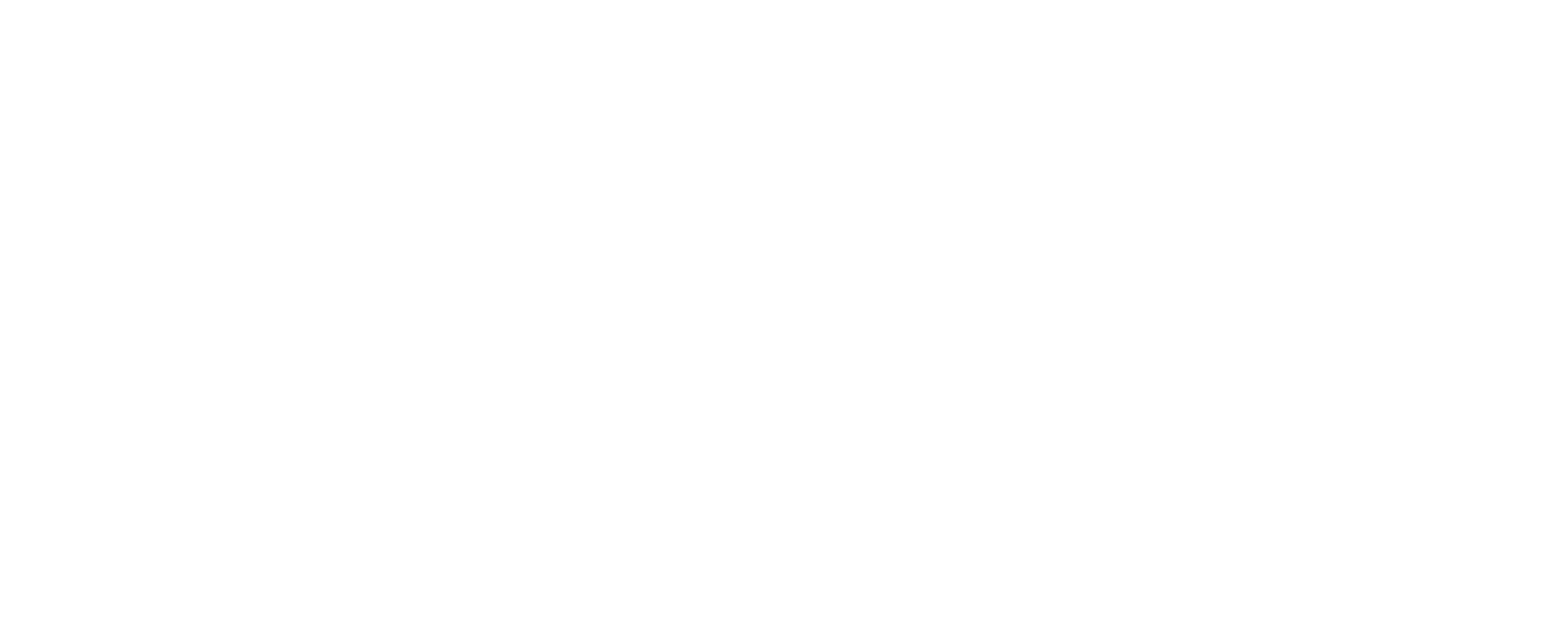Iracema – Uma Transa Amazônica (1974) parte de um gênero já bastante conhecido no cinema: o roadmovie. Este, porém, não é sob uma paisagem meramente bela, mas sim pela Rodovia Transamazônica, símbolo por excelência do projeto e fracasso desenvolvimentista da ditadura militar brasileira. Começamos o filme em Belém, com Tião Brasil Grande, gaúcho e motorista de caminhão que transporta madeira do Norte para o Sudeste, de Pará para São Paulo. Sua aparição é estranha. Seu corpo é um ruído pelos espaços que transita. De óculos escuros, boné, camisa com quase desabotoada e um sotaque estrangeiro àquele espaço, Tião desestabiliza a cena, produz atrito por onde passa. Ele é um tipo, o malandro do cinema marginal, porém fora de seu habitat: não mais o Rio de Janeiro ou São Paulo, mas sim a Amazônia. Já Iracema, uma jovem do interior que se prostitui como modo de sobrevivência, é o completo oposto do caminhoneiro, uma vez que seu corpo produz outro tipo de ruído. Ainda que já ciente dos códigos e mandingas dali, sua emergência em cena nunca passa despercebida. Seu caminhar, suas roupas, sua beleza ímpar e sua ingenuidade atraem todos os olhares para ela. Ainda assim, seu corpo não parece caber ali, o espaço não comporta o tamanho de seu desejo: mudar-se para São Paulo.
A paixão pelas coisas, pelo mundano, é o catalisador que produz o encontro entre Iracema e Tião. Nesta força que os puxa para outro lugar, o espaço surge como algo que não comporta Iracema. Ela, assim como o filme, é apaixonada pelo mundo — “vence na vida quem mais caminha”, diz Tião. A montagem que antes alternava os passos de ambos, agora os une em um cabaré local. Lentamente eles se aproximam, dançam, fumam, bebem, jogam conversa fora, até que Iracema se oferece para seguir viagem com ele e assim acontece. A personagem parece tomar o filme de assalto, pegar para si a narrativa que antes alternava entre ela, Tião e um registro isolado de paisagens e manifestações populares. O que passamos a acompanhar, a partir de então, é um filme que vai perdendo a ficção de vista à medida que ele (e Iracema) trombam com o mundo. Descobrimos as veredas da Transamazônica à medida que Iracema também é corrompida por ela. Ainda assim, não se trata somente de inserir estes personagens da ficção em meio a um determinado acontecimento. O que Bodanzky e Senna produzem, na verdade, trata-se de conceber a rodovia como um organismo vivo onde todos os corpos estão prontos para parasitar o outro, um espaço marcado pelo fracasso do progresso e o triunfo do eu sobre o outro, da minha vontade sobre o teu desejo como método de sobrevivência.
A vida na estrada de Iracema (e também de Tião) é marcada pelo improviso. Possivelmente como sintoma da feitura fílmica diante da matéria do mundo, a malandragem, aos moldes do cinema marginal. É a música que rege o modo de viver na rodovia. Iracema, apta para jogar este jogo, esbarra nos muitos homens que querem tirar proveito de sua beleza. Porém, invertendo a lógica, ela logo torna-se parasita. Após ser expulsa do caminhão muito antes de São Paulo, uma sequência de cortes secos fazem abruptas passagens de um espaço ao outro, de uma situação à outra. Do cabaré onde ela foi abandonada a um pequeno vilarejo, do vilarejo à uma fazenda, da fazenda a outro vilarejo, o que sublinha as regras desse jogo são os mecanismos de sobrevivência criados pelos indivíduos. Depois de fazer um programa junto a uma amiga, ambas são jogadas num caminhão pau de arara para voltarem para casa, o contrário do que foi prometido à elas. Praticamente indefesas, um pedaço de gilette é a única proteção de Iracema que, após muito insistir, divide com a parceira de trabalho. O que poderia ser marcado por uma sororidade entre as personagens, é desviado pela lei da selva. Iracema é abandonada à beira da estrada enquanto sua “amiga” prossegue viagem com o capataz do fazendeiro. Sem explicação ou contextualização, uma elipse a transporta da rodovia para outro vilarejo. Sã e distante de qualquer perigo, uma costureira convida Iracema para morar com ela e aprender seu ofício. Contudo, a paixão pelo mundo novamente rege seu destino.
O encontro de Tião com Iracema, do documentário com a ficção, do passado com o futuro, da vereda com o progresso, do homem com a mulher, da câmera com o mundo, produzem um filme deformado, uma forma sem forma. Isto é, trata-se de um cinema que vai “de encontro” ao mundo, jamais “ao encontro” do mundo, pois o entroncamento da câmera com o espaço e os corpos é essencialmente impuro e imperfeito. Seu interesse não é na matéria da ficção ou no contato entre uma suposta abordagem documental com dispositivos ficcionais, e sim nas faíscas que essas forças podem produzir, nas queimaduras que a ficção produz ao tocar o real. Ainda nas primeiras sequências do filme, antes de Tião e Iracema se encontrarem, o caminhoneiro para em uma churrascaria para almoçar antes de seguir viagem. Na mesa junto a outros parceiros de trabalho, eles jogam conversa fora e bebem cachaça. A câmera, por sua vez, não parece estar interessada nesse personagem ficcional conversando com “não-atores” e passa a passear pelo espaço buscando rostos de outras pessoas que estão ali. É como se, temporariamente, ela abandonasse a ficção para registrar aquilo que está ao seu redor, pois o que há no mundo é de seu maior interesse. Passamos então a ver pequenos retratos, rostos que entram de supetão no filme.
De certo modo, é como se a forma do filme, em sua feitura, não buscasse Tião em contato com outros, mas sim tudo aquilo que, do mundo, pede para entrar no filme sem permissão. Trata-se de uma “amálgama dos intérpretes”, na formulação de André Bazin, por excelência, pois mais do que atores não-profissionais encenando suas próprias experiências, o que há no filme é uma câmera que busca a arte dos corpos e dos espaços em sua dança. O real que há no filme, afinal, parece invadir a ficção (se é que podemos separar tais forças em Iracema) em seu estado bruto, duro como uma rocha que, por meio das brasas produzidas pelo encontro, se transforma em pedra preciosa. Não se trata essencialmente de um filme amorfo, e sim de uma forma que se deforma pelo atrito, que tem mais interesse naquilo que a cena oferece do que em seus próprios códigos. Sua textura estilística é tudo aquilo que lhe é oferecida enquanto substância do mundo. Iracema é, ao fim e ao cabo, sobre isso: resgatar a textura do mundo, incorporá-la ao cinema.