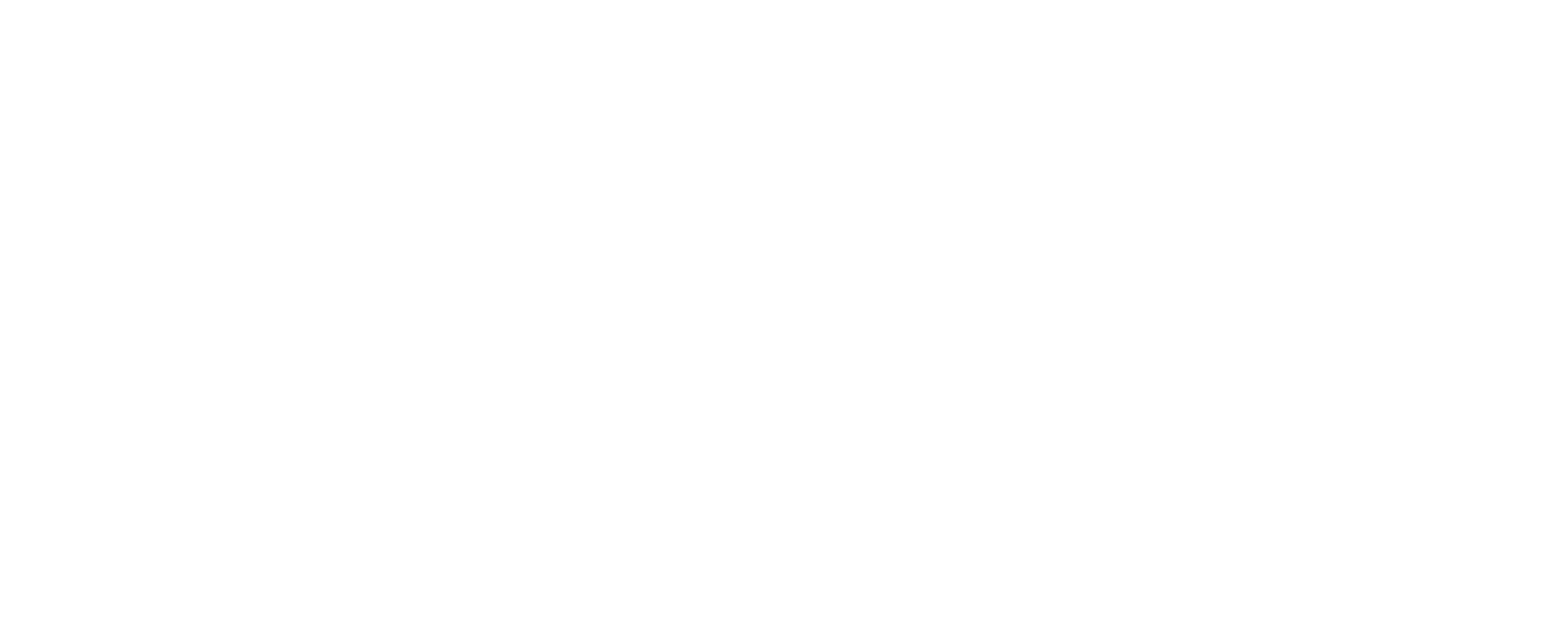Há filmes cujas cenas ou sequências iniciais condensam (ou anunciam, revelam e até mesmo despistam) determinadas linhas de força que, ao longo de suas narrativas, serão desdobradas (ou cumpridas, perseguidas e até mesmo sabotadas). O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, 2025) é um desses filmes.
Marcelo, personagem de Wagner Moura, estaciona seu Fusca amarelo em um posto de gasolina à beira da estrada. No chão árido, a alguns metros de distância, um corpo morto, crivado de balas, é assediado por moscas e cães. O frentista explica ao protagonista que o cadáver, já em estado de decomposição e coberto por papelão, espera pelo fim do carnaval para ser recolhido pelas autoridades. Segundos depois, uma viatura da polícia estaciona no posto. Indiferentes ao corpo putrefato, os homens fardados abordam Marcelo, requisitando sua documentação e perguntando se ele carrega uma arma consigo. Tudo transcorre de forma lenta e cadenciada. O personagem, finalmente, é liberado – não antes de entregar, por livre e espontânea pressão, o maço de cigarros que levava no bolso da camisa – e continua sua viagem rumo a Recife. Surgem então os créditos iniciais.
A cena, que impressiona pela sua dilatação temporal e seu virtuosismo técnico, não cumpre nenhuma função narrativa precisa, mas ela fornece indícios daquilo que parece interessar ao filme de Kleber Mendonça Filho. Em primeiro lugar, é o caso de atentar que, no gesto mesmo de sair da estrada e entrar no posto de gasolina, encontramos a ideia de que Marcelo desvia de sua rota. Em sua estrutura, O Agente Secreto recorre a desvios, bifurcações e desencaminhos: a narrativa se permite digredir, sonhar, avançar e recuar, exceder linhas espaciais e temporais. Se o filme formasse a imagem de um “ser imaginário” – a referência a Jorge Luis Borges é proposital: KMF nunca foi tão borgiano quanto aqui –, este arabesco de linhas tenderia a um monstro com muitos tentáculos (ou, obviamente, muitas pernas, como atestam as duas, decepadas, que percorrem os entremeios narrativos).
No início dos anos 1990, Serge Daney escrevia que um filme “de cinema”, naquele momento, talvez coincidisse exatamente com essa arte do desvio: “deixar as pistas batidas das autoestradas [como faz Marcelo] e seguir de novo os caminhos que bifurcam, mesmo aqueles que levem a lugar algum ou que tragam você de volta ao ponto de partida”. A esta hipótese, Daney incluiu uma de suas belas fórmulas lapidares: “perder tempo para ganhar tempo, inventar o tempo perdido”. Não estamos distantes do drama de Marcelo, que retorna de um autoexílio em busca do tempo que lhe foi tomado.
Em segundo lugar, a cena do posto de gasolina parece respirar o ritmo de todo o restante do filme: trata-se, ali, de esposar a cadência paradoxal de Wagner Moura, com sua tranquilidade inquieta, sua molência rígida, sua serenidade paranoide. O compasso de um homem em fuga, pacífico mas à beira da explosão, carburado pelas circunstâncias que o interpelam. O Agente Secreto é, neste sentido, um belo slow burn.
A cena apresenta, como o personagem de Wagner Moura, algo de profundamente calmo e vivamente inquietante: há a polícia, certo, mas há também esse cadáver que não só faz empestear o espaço com seu odor pútrido como também lança sua sombra fúnebre sobre as imagens ensolaradas. Um corpo esburacado, tal qual a própria narrativa, que promete se levantar a qualquer momento (o que eventualmente acontece em um sonho de Marcelo) para perturbar a falsa calmaria – a ditadura? – que o ignora.
Um corpo que reclama, enfim, impassível, sua visibilidade. Por outro lado, na cena mais bonita de O Agente Secreto, já na segunda metade do filme, Marcelo pleiteia o inverso: após descobrir que está jurado de morte, o protagonista sai às ruas de Recife e, ao encontrar um bloco de carnaval, se imiscui entre os foliões, dançando ao ritmo dos seus corpos e desaparecendo na multidão de cores, fantasias, confetes e sons. Torna-se invisível, indistinto, secreto, até afastar-se do bloco e ser novamente flagrado pela câmera que sela seu destino.
A terceira coisa que a cena inicial nos condiciona a pensar é de ordem formal. A cena começa com um plano geral – um plongée – que revela o carro de Marcelo abandonando a estrada e adentrando os limites do posto. Conforme o fusca avança em direção à bomba de gasolina, a câmera, posicionada em uma grua, descreve um movimento diagonal (para a direita e para baixo) na intenção de acompanhar o movimento do veículo e se colocar ao nível do chão. Aliado a este movimento diagonal, há um zoom que termina por focalizar o cadáver no chão de terra.
O virtuosismo da câmera, não exatamente gratuito, é indicativo de uma das bases do cinema de KMF: em seus filmes, toda cena se apresenta como uma célula espacial modulável, percorrível, atravessável de cima a baixo, de um lado a outro e de uma camada a outra da imagem. O cineasta tende a decompor o espaço cênico por meio de uma câmera inquieta, curiosa e desgarrada, muitas vezes transformando este espaço em um painel abstrato de linhas e formas (cf. a cena na entrada do Cinema São Luiz). Travellings, panorâmicas, zooms ou dolly zooms, split diopters, angulações, lentes, desfoques, entre outros, compõem as possibilidades estilísticas das quais o filme tira um gozo fascinante.
Mais importante do que esse virtuosismo, no entanto, é o sentido simbólico que o zoom adquire aqui. No cinema de KMF, tão importante quanto a narração é a atenção depositada sobre as imagens e as cenas às quais pertencem. Trata-se de um pensamento formal detido não tanto na arquitetura narrativa, mas no plano enquanto unidade mínima e nas possibilidades formais que nascem no interior de uma cena. O zoom representa justamente o mergulho nas imagens do qual o cinema de KMF depende – mergulho necessário, direcionado, para a inspeção minuciosa dessas possibilidades formais e sua concretização.
Não é coincidência que seus melhores filmes – O Agente Secreto e O Som ao Redor (2011) – sejam aqueles em que a narrativa linear dá lugar a um mosaico de personagens e situações. Um mosaico de imagens e cenas nas quais o cineasta mergulha para extrair seu potencial expressivo: filmes verticais, e não tanto horizontais; filmes de zoom, e não tanto de travelling.
No caso de O Agente Secreto, entretanto, há um detalhe narrativo que “justifica” a arquitetura em mosaico, nuclear, feita de vasos não necessariamente comunicantes. Em determinado momento do filme, compreendemos que essa narrativa do passado (o ano é 1977) é suscitada por um trabalho, conduzido no presente, em torno dos arquivos dessa época. Flávia, interpretada por Laura Lufési, é uma pesquisadora que se ocupa justamente da fragmentação constitutiva desse conjunto de arquivos, e com o trabalho de organizar ou não estes fragmentos em uma narrativa coerente.
O labirinto de linhas do filme é, assim, aquele no qual se perdem todas as pesquisas que lidam com a poética do arquivo, mergulhadas como estão em acervos, registros, documentos, catálogos, inventários, entre outros. Na busca vã e ilusória de um Minotauro no centro deste labirinto, Flavia se desvia de sua pesquisa e vai atrás de um dos personagens secundários do filme. Este, no entanto, frustra seu desejo de coerência e causalidade: no diálogo final com este personagem, ela descobre que a narrativa permanece esburacada. E permanecerá. Como o cadáver na beira da estrada.