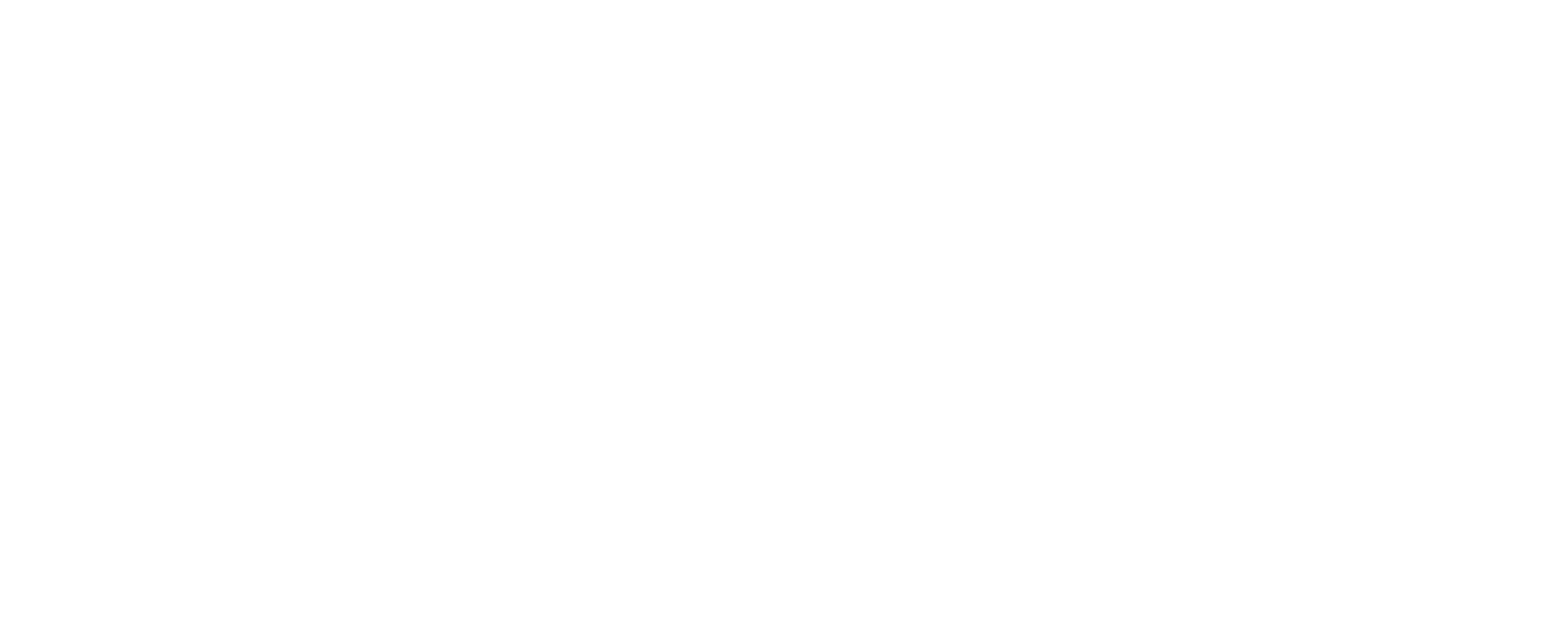Desde o título, Salomé (André Antônio, 2024) remete a uma grande herança pictural. A um só tempo, é um mito e um ícone. Mito porque estória metamórfica que modifica-se ao sabor dos tempos, ícone porque evoca uma figura identificável já reproduzida à exaustão na história da pintura. O conteúdo de alta carga citacional que assombra o filme, não é, porém, novidade dentro da filmografia de André Antônio. Como esquecer a figura de Vênus que desponta como pequena imagem sobreposta à camisa Nike do diretor em Vênus de Nyke (2021)? Ou as imagens provindas de Sebastiane (Derek Jarman, Paul Humfress, 1976), que presentificam o maior ícone gay da igreja católica? Ou ainda o dândi que flana sobre uma Recife rococó em A Seita (2015)?
É preciso aqui fazer como Malraux e distinguir entre “demiurgia e estilização”. Me parece claro que a aposta do diretor não é começar com a gênese do mundo, mas com personagens mitológicos menos ou mais conhecidos. Ao recorrer a um imaginário acabado, é aberto espaço para cunhagem de uma impostação própria. Faz-se necessário imaginar uma Salomé que mora em São Paulo e retorna a casa de sua mãe em Recife. Para tanto, um grande investimento anamórfico incide sobre a imagem. Há uma certa paixão pelo tableau vivant: o início do filme manifesta várias cenas em que vemos expressões faciais aproximadas, em iminência de movimento. Assim são as figuras do reencontro entre Salomé e sua mãe, têm suas faces frontalmente enquadradas – me maravilho com as diferenças de texturas das peles, com suas expressões contrastadas entre desconfiança e contentamento, com o contato entre a superfície de ambos os rostos, que confere um movimento próprio à cena. Esse efeito de destacamento é inflacionado por músicas extradiegéticas, óperas na maioria das vezes, que invadem e me fazem submergir na superfície da imagem.
Um plano a espera eterna de um contraplano. Uma suspensão de segundos que devém infinita. Eucanaã está a consertar um cano na casa da mãe de Salomé, e a interação entre os dois faz-se possível. Quando Eucanaã é enquadrado dá-se a ver um jovem esbelto e sedutor que, a despeito de suas tatuagens faciais, evoca Jesus Cristo e São Sebastião. Naqueles segundos eternos, somos convocados uma vez mais à sedução do tableau: aderimos e fitamos atentamente àquela imagem a despeito de tudo. É esse poder imersivo das imagens em staccato que nos conduz ao techno. E lá está Eucanaã com seu feitiço: um frasco de loló, aqui uma substância verde neon, ainda que com os efeitos reconhecíveis de sempre. Ao baforar a poção, o plano subjetivo de Salomé encarna a magia: Eucanaã desponta com uma auréola vermelha, as pulsações da música se intensificam, os reflexos se tornam mais lentos. Em um primeiro momento, o filme nega o anteparo narrativo e aposta nas dobras e redobras da superfície. Os planos não são cunhados para elucidar uma história, mas estruturados desde sua qualidade mais sensível: o verde do loló penetra os tons ocres do subúrbio recifense, as trilhas intra ou extradiegéticas conferem um tom afetivo aos momentos de suspensão, que se somam, e desarticulam as ligações entre planos.
O loló enreda o amor entre Salomé e Eucanaã. Episódico e intenso. Os primeiros beijos cadenciam e conduzem à cena de sexo entre os dois: ora o enquadramento de cada um separado é privilegiado, ora o plano conjunto. Salomé dá um beijo grego em Eucanaã. Ao final vemos os dois abraçados, em um ângulo que captura ambas as genitálias dormentes. Impressiona o rigor formal da cena e, ao mesmo tempo, sua sensualidade. André Antônio nos mostra como é possível tecer um plano que transborda tesão e é orientado pela estilização continuada – que se dá a ver pela fragmentação dos corpos, pela trilha sonora acentuada, pela expressividade latente nos rostos, pelo matiz de verde que impregna as superfícies, pela criação enfim de uma atmosfera fantasiosa que encaminha o sexo antes ao lugar da heterotopia – da descodificação radical, do experimento completo, da vigência do interdito – do que do constructo naturalista. Aqui, como em outras tantas cenas do filme, a artesania da composição desmente os versos de E. E. Cummings “já que sentir vem antes/quem prestar atenção/à sintaxe das coisas/nunca te beijará completamente”.
A câmera de Salomé se diferencia muito da câmera de A Seita: por vezes flanante, indiferente aos atores. Em Salomé temos sobretudo planos médios, unidos por raccords diretos, mas a dinâmica excessiva que atua na composição não permite que algo seja de fato suturado. São ligações diretas de plano e contraplano, mas na passagem de um ao outro há sempre um excedente pictórico, algo que desponta como saturação, e não permite, portanto, que haja uma ligação pura e simples. O pano de fundo do subúrbio recifense se vincula aos corpos vestidos por roupas neons, as armações de óculos com aerodinâmica arrojada se filiam à vizinhança a um primeiro lance de olhos pacata da mãe de Salomé. Algo outro incide na composição e adiciona uma camada de estranheza àquilo que é feito da mesma forma e de maneira recorrente. É como se a estruturação pictórica manifestasse um caráter de surpresa a partir do bom e velho método de continuidade do cinema.
No que tange ao mito: é preciso nos ater a sua temporalidade intempestiva e, em Salomé, a narratividade própria ao mito chega depois. Na primeira metade do filme, o que prepondera é a entronização pictural, a articulação e desarticulação dos contornos de uma Salomé recifense. Ao evocar o mito é preciso ajustar o passo em relação à cadência da estória. E todo um novo mundo se abre quando Eucanaã recusa o convite de ir morar e ser sustentado por Salomé em São Paulo. Ao revelar ser michê de uma seita, Eucanaã desvela um novo ambiente a ser adentrado pelo filme. Em uma das muitas dobras de Salomé, somos levados a um castelo esverdeado, que tem como patronos pessoas trajadas por máscaras realistas de látex. Quando vemos esses personagens monstruosos adentrar a cena, ruídos invadem a trilha sonora – seus passos de látex que atritam com outra superfície. Se a sensibilidade artificial já dava seus indícios por todo o filme, nesse momento já não resta mais nenhuma dúvida: há na maneira de compor uma paixão desenfreada pelo exagero. É interessante notar como, mesmo em momentos de verborragia narrativa, o filme investe numa reconversão estética: novos elementos despontam na composição dos planos.
Ainda que o destino trágico – característica prevista na estória de Salomé – venha à tona em algum momento –, o filme deflaciona ao máximo o desenvolvimento narrativo, insinuando os acontecimentos primeiro visualmente e depois de maneira mais verborrágica. Recorrer ao passado, ou ainda, à temporalidade lampejante do mito, não é aqui uma evocação prostrada de quem não vê graça na matéria do presente. Trata-se antes de ir buscar na gaveta dos tipos, das imagens, antes e apesar de tudo, algo para ser deformado à luz do agora. E assim nos perdemos numa dança de texturas e composições saturadas, num cinema que defende sobretudo o espírito da extravagância e nos restitui o direito ao excesso. Não seria equivocado dizer que o Messias do cinema nacional não veio e nem virá, mas é antes o filme Salomé, que faz-se e refaz-se diante de nós, em cada uma de suas exibições.