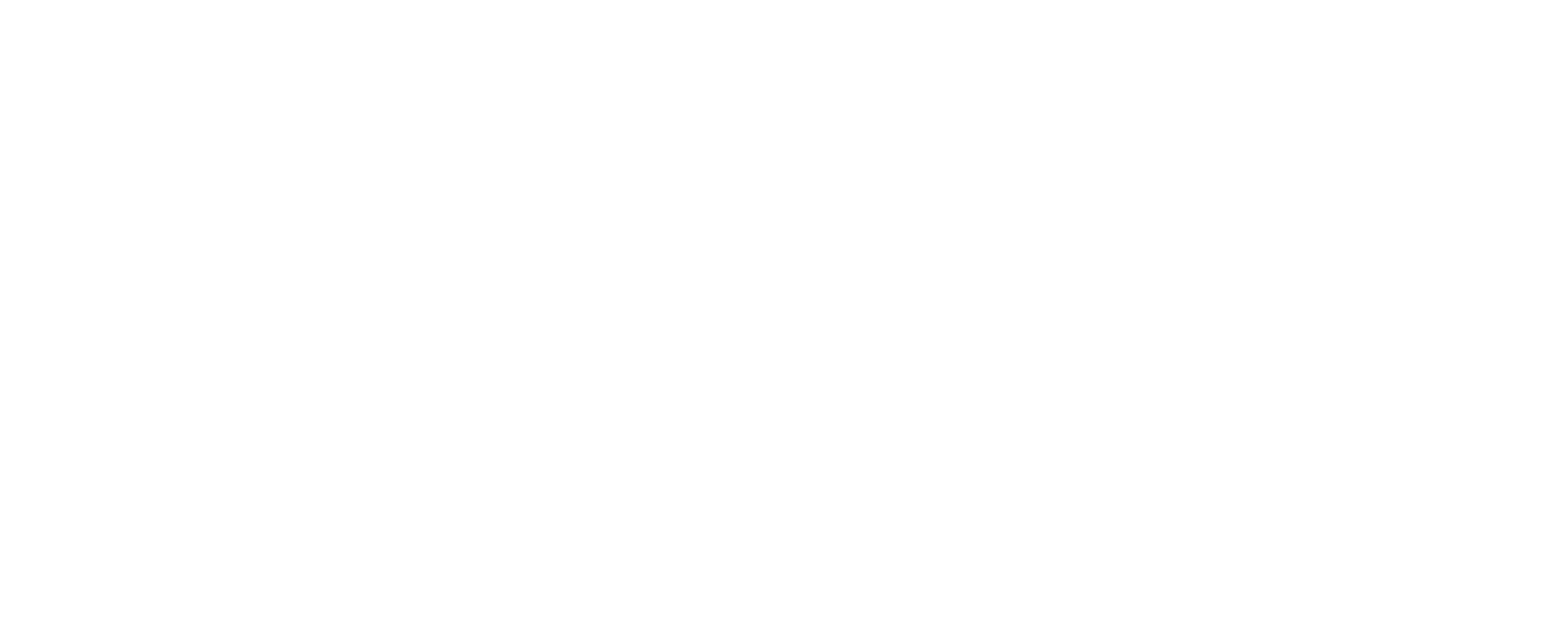Last Updated on: 5th agosto 2025, 05:48 pm
Dois alto-falantes grandes são posicionados no meio do deserto. Atrás deles, camadas de areia se acumulam em uma paisagem infinita, como um fundo de desktop: igualmente bonito e intocável. Montanhas – distantes – lembram formas geométricas. O som extradiegético de um rito eletrônico tenta permear os sedimentos do pó e dos corpos dissidentes, que permanecem sentados ao redor de um fogo que já não queima. Jade dança. O lenço em sua cabeça acompanha os gestos. Seus pés se chocam contra o chão árido. À medida que a música cresce, sua entrega também se intensifica. Então, num rompante, ela grita: “Que o som estoure!” e, em uma fração de segundo, explode junto às esperanças daqueles que a acompanham.
A liturgia do fim, encenada em Sirat (2025), de Oliver Laxe, por meio da música eletrônica e da cultura rave, alcança seu momento catártico nesta cena. Subitamente, percebemos que a trama de Luís — um pai que, acompanhado do filho mais novo, atravessa o deserto marroquino em busca da filha desaparecida entre festas ilegais, — têm pouco ou nenhum peso real na trama. A jornada funciona antes como um dispositivo narrativo, um pretexto para atravessar o deserto – e o som – por um olhar estrangeiro, hesitante e incompleto. A incerteza do pai e a persistência do filho tentam produzir um fator emocional que, longe de expandir o gesto radical do filme, o suaviza. A radicalidade da música, da rave, do deserto como desestruturação simbólica é, assim, progressivamente recoberta por uma ficção de reencontro e redenção; um gesto conciliador que dilui a pulsação dissidente que o filme parece desejar.
Em outra cena, Luís entra no caminhão de Jade para devolver os pratos do jantar e a encontra consertando um alto-falante. O grave pulsa alto; Jade pressiona a mão contra a caixa de som e sente a vibração. Nesse instante, o filme roça uma possibilidade que nunca chega a realizar completamente, uma outra via narrativa, que permanece apenas sugerida, à margem. Jade toca o som e esse contato aponta para aquilo que o filme parece temer: deixar que o som, de fato, estruture a imagem, em vez de apenas ornamentá-la ou servir como metáfora. Há ali uma brecha em que a materialidade do som ameaça romper o domínio da narrativa, mas o gesto se encerra rápido, como se o filme recuasse diante da força que ele mesmo convoca. Ao invés de seguir essa trilha, permitir que a rave e o ruído conduzam o ritmo, a montagem e o olhar, Sirat volta ao abrigo do arco dramático, à segurança do conflito familiar. E, mesmo quando tenta romper com essa lógica ao definir o destino infeliz da criança, o filme constrói outra família, todavia mais idealizada: Luís adormece no caminhão, abraçado pelos ravers e pelo cachorro.
A busca excessiva pela perfeição também se revela na maneira como o som é manipulado. Raramente ouvimos música diegética. Isto é, o som nunca chega aos nossos ouvidos como soaria se estivéssemos ali — perdidos no deserto ao lado dos personagens. A construção sonora, apoiada em bibliotecas e camadas pré-fabricadas, evidencia uma distância em relação ao próprio tema. O descontrole e a entrega que definem a rave se diluem, da mesma forma que o propósito de Luís se esvazia ao longo da narrativa. Se houvesse, de fato, uma tentativa de compreender o som como experiência — transformar a sala de cinema em uma rave, onde sonho e desesperança coexistem — o filme talvez tivesse assumido o caos que o ronda. Sirat prefere o gesto calculado ao risco, e com isso, se rende ao espetáculo da forma: busca capturar o espectador mais desatento por uma sucessão de choques cuidadosamente coreografados; mortes repentinas, viradas narrativas abruptas, episódios de violência inseridos quase como efeito. Tudo embalado por uma precisão técnica irretocável. O resultado é uma estética de impacto que nunca se suja, nunca se desenfrena, e por isso mesmo, jamais encarna a ruína que se propõe a filmar.