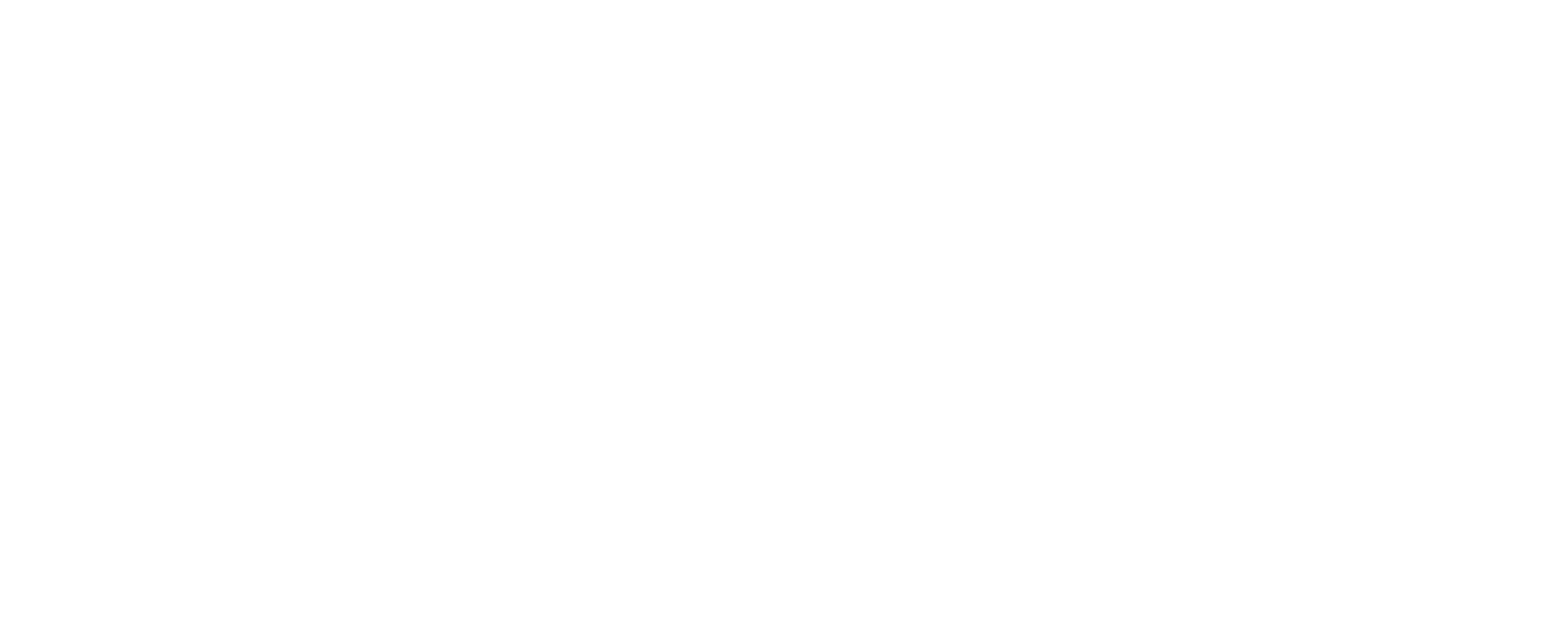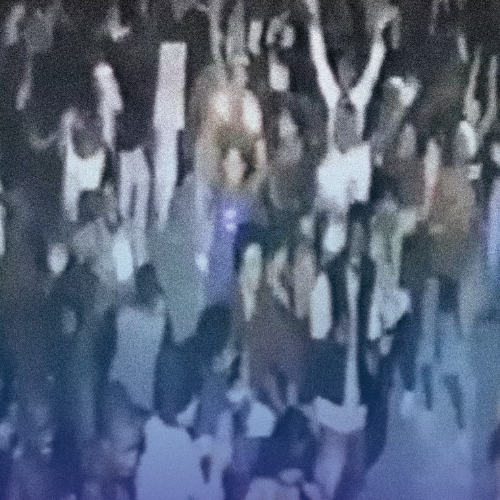por Renan Eduardo e Rubens Fabricio Anzolin
11. 2Uma pesquisa iniciática, sobrevoando minimamente os últimos 15 a 20 anos de produção audiovisual no país, indicaria que o maior mantenedor das imagens do funk nacional encontra-se no YouTube, no Facebook, no TikTok e nas mídias sociais em geral. Quem registrou o ritmo, em maior ou menor grau, ontem e hoje, foram mesmo as pessoas que fazem parte de sua cultura. Isso para dizer, necessariamente, de um registro minimamente “poético” da estética do funk, uma vez que, sem dúvida alguma, o “movimento” do funk foi também massivamente registrado por veículos tradicionais de mídia, sobretudo através das reportagens televisivas, em geral de caráter homogeneizante e preconceituoso. Isso também gera um lapso paradoxal diante de uma história recente: dos anos 1990 para cá, registros audiovisuais do funk encontram-se em grande parte em acervos televisivos, frutos das tele-reportagens investigativas que buscavam encarar o advento do movimento musical como algo de gueto (no pior dos sentidos): um problema emergido das encostas, das favelas e das comunidades precarizadas. Raramente, há a presença de alguns importantes expoentes nessas filmagens, caso da figura de DJ Marlboro, alvo de matérias jornalísticas de múltiplas ordens, sobretudo entre meados dos anos 90 e começo dos anos 2000.3 Boa parte dessas matérias, aliás, encontra-se indisponível em nicho digital, sendo relegada a acervos televisivos em condições invariavelmente precarizadas.
2. Se pensarmos num universo de longas-metragens lançados comercialmente desde os 2000, encontraremos pouquíssimos filmes que versam sobre o tema mais abertamente: Sou feia mas tô na moda (Denise Garcia, 2005), Favela Bolada (Leandro HBL e Diplo, 2008), A batalha do passinho (Emílio Domingos, 2013). A esses longas, poderíamos somar ainda Terror Mandelão (GG Albuquerque e Felipe Larozza, 2024), que sequer teve estreia comercial, mas foi bem recebido por festivais e mostras de cinema, em especial pelo modo mais sofisticado e experimental com que lidam com suas personagens e o gênero musical. Outras atrações recentes também se destacam, caso da série televisiva produzida pela Gullane Filmes, Funk.doc, lançada pela HBO Max no Brasil, além do longa-metragem Funk Favela (Kênya Zanatta, 2024), que aborda o cotidiano do movimento nas periferias de São Paulo.
3. É claro que aqui não estamos falando de filmes que utilizam o funk como trilha sonora necessariamente, ou mesmo que sobrevoem, por minutos que seja, paisagens e personagens do universo funkeiro. O que ponderamos é justamente que não há, em maior ou menor grau, num circuito exibidor em geral, e mesmo num circuito artístico restrito em particular, um hábito de filmar o funk. Exceções confirmam a regra (os curtas jornalísticos de Felipe Larozza, obras como Perifericu ou o recente Fluxo – O Filme, com boas passagens por festivais), mas continuam sendo exceções. Bem comparando com a quantidade de views, plays e mesmo de agentes culturais envolvidos em tal movimento, o número de filmes brasileiros feitos ao redor do funk, enquanto tema macro ou enquanto estética particular, ainda representam um abismo diante da sua relevância política e estética. Tal paradoxo é tão superlativo que, aliás, dificulta a explicação de o cinema brasileiro ter tido tão pouco interesse pelo funk como forma poética, uma vez que poderíamos apontar a produção de mídias sociais do universo funkeiro como um verdadeiro fenômeno de massa, chegando por vezes às centenas de milhares de visualizações.
4. Um adendo a essas afirmações é importante: quando falamos que o funk não foi devidamente filmado, o recorte desta afirmação está concentrado justamente no universo do cinema brasileiro recente. Ou seja, debruça-se sobre trabalhos que querem ser filmes. A ausência está posta em curtas ou longas-metragens, realizados minimamente para serem encarados como tal. Salientar este recorte não é, de modo algum, descartar as inestimáveis contribuições que outros materiais audiovisuais, inclusive como é percebido no contexto dessa mostra e de uma pesquisa mais ampla sobre o tema, possuem ao redor do ato de “filmar o funk”, seja demonstrando sua cultura, ressaltando figuras importantes ou mesmo fazendo intervenções formais através das aparições em mídias sociais. O que interessa, por hora, é ressaltar o fato de que o cinema brasileiro, enquanto instituição, em seus segmentos mais variados — políticos, poéticos, de mídia e de mercado — não parece ter alcançado pelo funk o mesmo interesse que alcançou por outras temáticas e abordagens.
5. Contudo, se há no cinema brasileiro, enquanto instituição, este lapso em relação ao gesto de filmar o funk, há, por outro lado, um apanhado dos mais interessantes e tecnologicamente marcantes registros, em termos estéticos, no mundo digital de baixa resolução. Mais propriamente, o YouTube abriga uma celeuma de trabalhos que não necessariamente se querem filmes, mas que poderiam — com algum grau de louvor, nota-se — ser tomados como tal, cuja prática musical do funk, em seu imbricado estudo tecnológico, político e periférico, condiz com uma ideia de experiência sensorial alucinante e inesperada. Registros presentes em perfis como Egito do Chapadão, Mega – Se Piscar já era do Sorrizo Ronaldo ou Eu moro em bangu manipulam as ferramentas do cinema (da montagem às colagens sonoras, com especial menção ao uso diferente de letras e grafismos em tela), em um espírito experimental, comunitário e intencionalmente precário, que conversa com a lógica do funk de modo muito mais frontal que boa parte dos curtas e longas-metragens produzidos ao redor do tema.
6. Se há, por um lado, uma presença massiva do funk enquanto manifestação sonora, do mainstream ou underground, do Brega Funk ao MTG4, além de um muito justo enriquecimento de seus MCs e produtores ao redor do país — sem que isso signifique dizer, de modo algum, que “a favela venceu” — é preciso também notar que, em caráter audiovisual, e, mais especificamente, em caráter de cinema, tal faceta, tanto estética quanto de disseminação/recepção, jamais alcançou a mesma dimensão. Ao mesmo tempo, isso não significa dizer que o funk não foi filmado. A bem da verdade, poucas coisas foram tão filmadas quanto o funk nessa última década. A produção de videoclipes no Brasil deve a nomes importantes, como Kondzilla, P.Drão e Yuri Martins, alguns de seus importantes influenciadores e financiadores. Há uma lista enorme de artistas, por exemplo, em regiões espalhadas país afora, que tiveram seu reconhecimento e suas canções alicerçadas através do material audiovisual. A dimensão da internet, e sobretudo a popularização do YouTube no começo do século, permitiu que artistas do funk fossem evidenciados através da representação em imagem. Isso, de algum modo, disseminou vertentes e culturas locais, que vão desde o Funk Ostentação até movimentos regionalizados da cultura funkeira. Daí mesmo que a questão do funk em relação ao cinema brasileiro contemporâneo se adensa — e talvez apresente também um diagnóstico possível ao paradoxo da ideia de filmar o funk.
7. A produção de imagens do funk no Brasil existe, é múltipla, em alguns casos extremamente vendável, e possui autores variados, inclusive desconhecidos. O que importa para nós, nesse momento, é pensar justamente o inverso: por que em um universo produtivo tão vasto, e a partir de um elemento cultural tão singular e influente, o cinema brasileiro permanece tão lacunar? Uma resposta objetiva não existe, mas sim algumas hipóteses que identificam esses campos de distância e proximidades, e que possibilitam enxergar nos arquivos audiovisuais extra-fílmicos (imagens que podem ser filmes, mas, aparentemente, não são feitas como tal) um arcabouço de linguagem muito mais similar ao cinema que propriamente aqueles filmes feitos ao redor do gênero musical.
8. Mais recentemente, o Brasil observou a emergência de pesquisadores importantes dos ritmos periféricos, em especial o funk, que apontam para uma renovação de bases e interesses ao redor destas práticas tidas como precárias. Destaca-se a importância de nomes como o pesquisador e jornalista GG Albuquerque (Volume Morto, portal Embrazado) e do recentemente falecido professor Carlos Palombini. Há também outros expoentes importantes desse pensamento, que sobretudo relacionam escuta, vivência periférica e o experimentalismo das tecnologias para versar as lógicas do funk. Tomamos como base esses pensamentos, num certo ponto, para pensar o que é o funk: um corpo estranho, comunitário, oriundo das periferias. Mas não só. Também é um corpo estético complexo, nascedouro de disjunções, de roubos tecnológicos, de invenções na matéria e a partir da matéria, em suma e em máximo resumo: uma expressão altamente sofisticada de linguagem. Daí que nasce a questão: há uma compatibilidade possível entre aquilo que o cinema brasileiro filmou nos últimos 25 anos, e aquilo que representa esteticamente o funk? Em raros casos, pode-se dizer que sim. Na grande maioria, nos parece que não.
10. Tal problemática diz respeito à formatação dos filmes que mais frontalmente abordam o gênero e as práticas do funk, o que não é o mesmo que anular suas importâncias políticas e históricas, e nem mesmo cinematográfica. Mas, de certa forma, é examinar este descompasso entre aquilo que se investiga e a forma com que se dá esta investigação. Os filmes de Denise Garcia e os trabalhos de Emílio Domingos possuem impacto fundamental no campo do funk e do cinema. Mas não registram ou resgatam personagens operando a linguagem na mesma lógica do funk. Dizer isto não é, necessariamente, anular importâncias históricas destes trabalhos — o de Denise, sobretudo, mais ligado de fato às estéticas do funk. É sim adensar o problema: o que significa dizer que, em um universo do cinema brasileiro, a representação mais comentada do funk encontra-se em trabalhos cuja manifestação de linguagem é, em último grau, mais padronizada? Em termos de operação estética, em consonância com as duas práticas (funk no cinema e funk e cinema), o que mais imbrica-se está nos vídeos de YouTube, numa matéria obscurecida das internets, nos guetos digitais (sem rumo ou autoria, um grande acervo sem garantias de permanência), e mesmo em trabalhos experimentais de cinema, como o recente curta-metragem Nada Haver (2023), dirigido por Juliano Gomes, onde o funk, sem se querer um tema aberto e macro, manifesta-se por meio da linguagem, em mistura e escuta atenta, em experimentalismos, e inclusive em dobras com outras noções musicais. Em suma: movimento de linguagem, de periferia de linguagens.
11. Pensamos, portanto, que se trata, em síntese, de uma questão da técnica frente à tecnologia. Não de um refinamento técnico apurado e higienizante — aquele que homogeneiza as formas e aplana a singularidade dos sujeitos, como tantas obras, ainda que “bem-intencionadas”, fizeram e continuam a fazer. Quando falamos de técnicas diaspóricas, pois o funk é efetivamente um dos seus produtos, a dimensão da inscrição e do artifício que manipula exaustivamente o registro toma o primeiro plano de algo que não se quer ser apreendido por inteiro, que diz pelas beiradas, que clama mais por uma sensação do que pela compreensão, que dança dançando5. O apreço por técnicas que se materializam em uma sensação que precede o entendimento talvez seja a grande chave do que estamos dizendo aqui, onde também talvez resida o maior embaraço entre o funk no cinema e o cinema de funk. Nisso, os registros semi-amadores dos bailes já fazem ao menos há 20 anos, como pode ser visto no vídeo ASSIM ERA O BAILE FUNK ,ONDE A CURTIÇÃO ERA BAILE DE CORREDOR SE ESCREVAM NO CANAL MEU POVO E POVA, hospedado no YouTube e com quase 300 mil visualizações. Lugar fechado, muito calor, beat picado, corpos suados que dançam livremente e passinhos em sincronia gritam por uma elaboração puramente sensorial que é latente à sua manifestação estética.
12. Nesse conjunto de hipóteses, podemos concluir seguramente que nos restam mais dúvidas do que certezas, novas perguntas ao invés de respostas aos nossos primeiros questionamentos. Ainda assim, se podemos intuir algo deste breve levantamento é que, em termos estéticos, as obras que se pretendam enquanto cinema, em sua grande maioria, ainda não sabem (ou têm grande dificuldade) de jogar com a estética do funk. Recorremos aqui à figura do jogo como uma zona múltipla de experimentação com a linguagem; o jogo, enfim, como forma de provocar modificações no índice viciado do audiovisual. Desta forma, apostamos na imprecisão das formas, na precariedade estética que saiba ritmar uma sala de cinema, no grave inaudito que distorce as partículas, numa função do funk no cinema, ou melhor, um cinema de funk.
- Ensaio originalmente escrito como texto curatorial para a Mostra O Funk no Cinema, que acontece nos dias 23, 29 e 30 de novembro em Poá, São Paulo. ↩︎
- Um agradecimento especial aos pesquisadores, programadores e amigos Ewerton Belico e Lucas Honorato, pelo esclarecimento de dúvidas e pela informação de obras disponíveis em acervos televisivos sobre o funk nos anos 1990, além de compartilhamento de vídeos experimentais de raro acesso na internet, bem como indicações de leitura fundamentais. ↩︎
- DJ Marlboro, expoente da cultura Funk, fez importante trabalho de disseminação da cultura em veículos tradicionais de mídia, sendo, possivelmente, a grande “figura”, em termos midiáticos mais comuns, representante do funk no Brasil nesse período. ↩︎
- MTG é uma sigla para denominar uma tendência recente do funk chamado de “Montagem”, em que DJ’s e produtores realizam colagens de músicas de diferentes artistas, adicionando ou emulando efeitos em suas distintas partes. ↩︎
- Conferir o texto Dançar dançando, do professor, crítico e produtor musical Bernardo Oliveira, publicado na plataforma Indeterminações, editada por Lorenna Rocha e Gabriel Araújo. Disponível em: https://indeterminacoes.com/textos/dancar-dancando. ↩︎