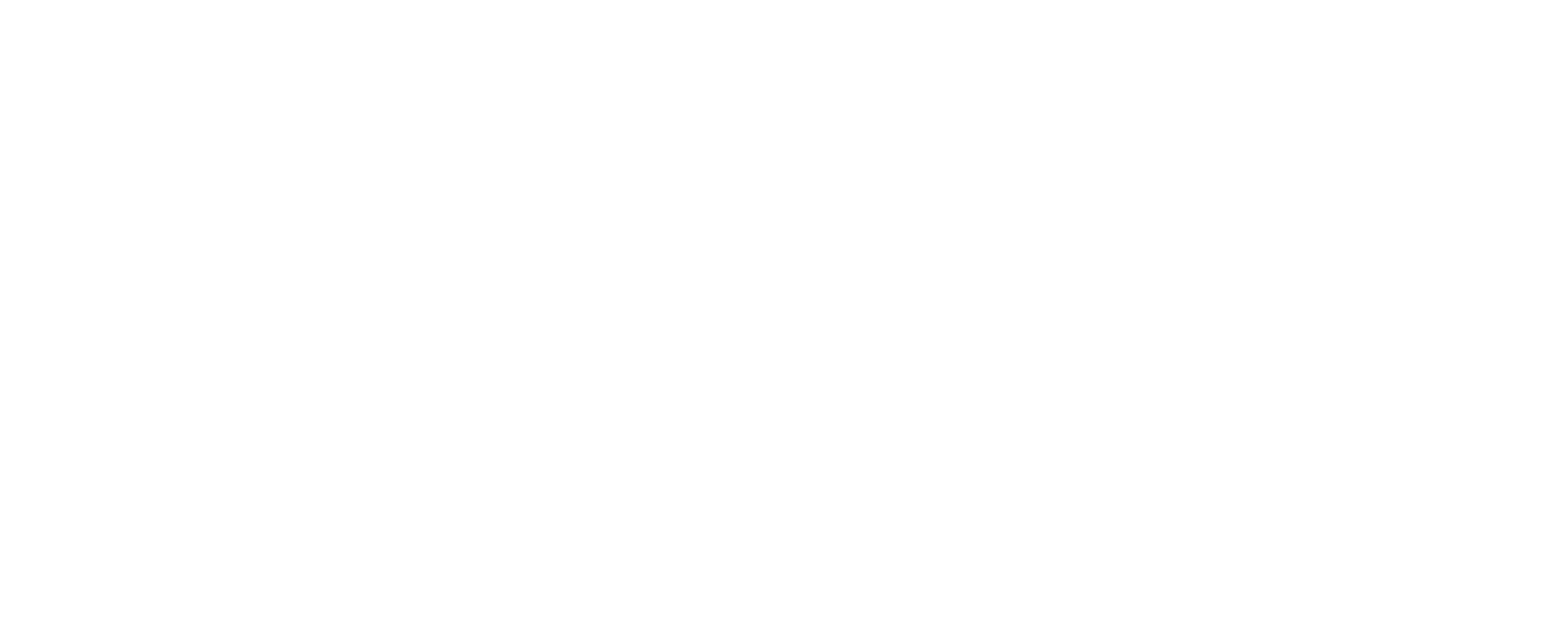Os frios ventos de junho e o sol insuficiente para aquecer nossos corpos levou para si, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes teóricos do cinema, sobretudo da vanguarda experimental estadunidense. Homenageado na coluna de Nicholas Correa, nos despedimos e dedicamos esta previsão para o romântico e incontornável P. Adams Sitney. No mundo dos vivos, Helena Elias também se despede de partes do seu corpo enquanto reflete sobre sua sensibilidade imagética em meio às brancas paredes de um hospital onde foi operada. Luiz Fernando Coutinho, por sua vez, segue perseguindo a cinefilia em seus diferentes imaginários e construções em que a dúvida é sua matéria-prima, enquanto Egberto Santana compartilha um breve relato de sua experiência cineclubista (e cinéfila) na região metropolitana de São Paulo. Renan Eduardo elabora sobre a perda da dimensão imaginativa na cultura contemporânea a partir do álbum Caro Vapor II – Qual a forma de pagamento?, lançado por Don L.
Recomendamos roupas grossas e bebidas quentes para este agitado mês de julho com novos textos na Revista Descompasso.
Boa leitura!
Porquê faço cineclubes ou o prazer de ouvir
por Egberto Santana
Em junho, realizei a segunda sessão de um cineclube que estou programando na minha cidade, Poá, cidade localizada na região metropolitana de São Paulo. Os filmes exibidos foram O Dia que te Conheci e Pouco Mais de Um Mês numa ideia de trazer o olhar de André Novais Oliveira, um diretor que se debruçou sobre relacionamentos contemporâneos em boa parte da sua filmografia. O que começou com uma sensação de frustração pela baixa adesão do público em uma segunda-feira bem fria, transformou-se no significado de realização no fim da sessão. Dois jovens, na casa dos 19 anos no máximo, comentaram sobre as cores dos filmes, sobre as conexões entre eles, sobre os diferentes momentos de uma relação, sobre a criação de espaços para as conversas e sobre os silêncios. Ambos, ao longo da sessão, soltaram risadas, comentários de canto de ouvido e eu, claro, ansiava para ouvi-los. Após o fim da sessão, me veio à memória que André fez outro filme seminal sobre relacionamento, mas, na perspectiva do luto mal resolvido de um dos personagens. Logo entrei no YouTube e coloquei Fantasmas para rodar. “A história de stalker mais romântica que já vi”, comentou um dos meninos. Cerca de 10 pessoas presentes (contando equipe e amigos), reagiram animadas e espantadas com as interjeições dos personagens sobre a existência da câmera e o motivo da gravação: estavam surpresas e felizes com o que o curta se transformava a cada minuto. Foi como voltar para a primeira sessão com o filme e ver minhas primeiras reações mais ou menos refletidas no outro. Com sorte e intenção, passarão os filmes e recomendações para companheiros e outros colegas, perpetuando as sensações e continuando esse caminho do filme. Naquele dia, percebi que é para isso que me coloco e me interesso por cineclubes, para ouvir um jovem falar sobre cinema e ver corações e mentes empolgadas.
“Que estranho eu!”
por Helena Elias
Em junho frequentei mais do que nunca o hospital. Passei por uma cirurgia – não era urgente, mas melhoraria minha qualidade de vida. As idas frequentes àquele lugar asséptico despertaram a minha sensibilidade imagética, estar ali era como adentrar o microcosmo de 2001 ou Solaris. Corredores a perder de vista, pessoas uniformizadas, lugares vazios, hiperiluminação. Nunca fui muito ligada a ficções científicas, então meu repertório magro me ajudava a desenvolver uma metaforologia tacanha e a lidar com aquelas tardes de silêncios e esperas. Abriu-se como uma zona temporária em minha vida, em que estar ali era ao mesmo tempo o avesso e o lado primeiro do pensamento. Vi algumas coisas que me fizeram pensar: “nenhum filósofo existencialista seria capaz de predicar algo que descrevesse uma tarde no hospital”, e umas tantas outras frases frágeis que quando irrompem em nós parecem grandes blocos de lucidez. Fato é que, invadida por esses acontecimentos recentes, li o texto O Intruso de Jean-Luc Nancy. O filósofo – que passou por um transplante de coração – reflete sobre o quão frágil é a noção de propriedade, e por extensão, de eu. Pois que, o regime permanente de intrusão, dos muitos remédios, do controle alimentar, da perda de saliva, faz com que o centro de identidade se transforme num fio tênue. Estamos sempre sob medição, sendo assistidos – os próprios estranhos. Que bela emotividade a de Nancy, um filósofo que adoece. Conforme o autor afirma, ir ao hospital é sempre um cruzamento entre uma contingência pessoal e uma contingência na história das técnicas – somos como que automaticamente inscritos numa rede de cuidados, de instituições, de riscos. Há um borrar dos limites entre o que é interior e o que é exterior e isso é materialmente observável: uma parte do “nosso” corpo – após a cirurgia – já não nos pertence mais. Que o pensamento siga habitando estas arestas: das coisas que nos acometem, sem prenúncio. E também o nosso corpo – perpetuamente metamorfo.
Tudo começa com a dúvida
por Luiz Fernando Coutinho
Em O perfume das flores à noite, de Leïla Slimani, leio sobre seu desejo de alimentar “ideias definitivas”, não se sobrecarregar com “nuances e dúvidas”. Ela fracassa: diz se sentir como as orquídeas de florestas tropicais que, como descreveu Michèle Lacrosil, são flores “cujas raízes, descendo dos galhos altos das acomas, ficam suspensas entre céu e terra. Elas flutuam, buscam; elas ignoram a estabilidade do solo” / Quando entramos nessa instituição fechada e cerimonial a que chamamos de cinefilia, somos como o contrário dessas orquídeas tropicais: na intenção de pertencer, buscamos nas certezas dos outros as nossas próprias; dependemos da estabilidade de um solo cultivado por outrem para (a)firmarmos nossas raízes / Michel Chion, em um texto para a revista Positif, denuncia a facilidade de invocar o “cinema” em geral — refugiar-se no discurso que extrai de um detalhe, de um diálogo ou de um plano o “sintoma” de uma situação do “cinema” — em vez de escrever sobre um filme. Para Chion, esta tarefa demanda não só um olhar agudo ou uma bagagem cinefílica, mas também uma disponibilidade que, nesse caso, me soa como uma atenção da qual não se extraviaram a dúvida ou a hesitação / (Abro o instagram e vejo um reel com a poeta Anne Carson, que nos recorda que o cogito cartesiano nunca foi apenas “penso, logo existo”, e que sua difusão e seu entranhamento no imaginário coletivo omitiram a primeira parte da formulação de Descartes: “dubito, ergo cogito, ergo sum”. Tudo começa com a dúvida) / Desarmar-se diante de um filme — despir-se do “cinema”, enfim — pode ser uma experiência assustadora, mas essa suspensão entre o céu e a terra me parece o mais próximo de uma prática de liberdade. Pois o “cinema” não existe: o que existe são os filmes.
Uma visão singular
por Nicholas Correa
Neste mês, no dia 8 de junho, perdemos aquela que é a figura central na formação de um pensamento teórico conceitual amplo e panorâmico sobre o cinema experimental estadunidense, P. Adams Sitney. É desafiador sumarizar no espaço de uma coluna o legado de Sitney, seja no seu esforço historiográfico extenso, na sua construção de um sistema teórico e terminológico para esses filmes de produção marginal, ou no seu papel na fundação do Anthology Film Archives em 1970. Ainda mais quando levamos em conta não apenas o legado esclarecedor de suas terminologias, como também dos debates teóricos subsequentes. Encontrei Sitney pela primeira vez na época da minha graduação através do seu ensaio seminal Structural Film, justamente o texto responsável por introduzir um dos termos mais debatidos do cinema de vanguarda americano, o cinema estrutural. A versão do texto que vemos nas páginas da Film Culture é a de um Sitney que, no mesmo ano de 1967, obteve o título de Bacharel em Artes, alguém que, além de jovem, ainda estava embrenhado na presença calorosa e intoxicante daqueles cineastas radicais dos quais ele escreveu. Posteriormente, próximo da conclusão do meu curso, pude entrar em contato com o Sitney quando este estava em uma disposição mais retrospectiva, através da terceira edição de Visionary Film publicada em 2002 — um trabalho seminal do qual sempre retorno. Quando lemos Sitney percebemos a extensão de sua base referencial, ancorada na literatura clássica e na poesia romântica e modernista, que serviu para algumas das nomenclaturas que imediatamente associamos a certos cineastas da vanguarda norte-americana. Dentro de um contexto em que vários dos cineastas que ele aborda vinham de outros campos artísticos que não o do cinema, Sitney foi uma figura central para traçar as linhas de influência de uma gama imensa de artistas, especialmente para mostrar a influência da poesia sobre o cinema de vanguarda. Formalista de senso aguçadíssimo, ele podia destrinchar cada partícula, cada unidade de sentido de um filme como quem analisa a métrica e o ritmo de um poema. Não por acaso, ele mesmo concebe grande parte do cinema de vanguarda americano (com algumas notáveis exceções como Warhol) dentro daquilo que ele concebe como um cinema “visionário”, um termo emprestado de Harold Bloom sobre a “Companhia Visionária” dos poetas do romantismo inglês como Blake, Wordsworth e Coleridge. O cinema visionário, segundo Sitney, funcionava como uma mimese da mente humana, um análogo dos movimentos da consciência, ou como ele põe ao tratar de “Mr. Frenhofer and the Minotaur” de Sidney Peterson: “o tema central do cinema visionário: o triunfo da imaginação”. Eu imagino que a partida de Sitney ressoa nos círculos da cinefilia mais familiares com esse repertório de um cinema vanguardista como um certo pesar por um cinema que também está em vias de desaparecer. A aspiração modernista desses filmes, obras de cunho quase, ou quando não francamente, epistemológico, encontra-se cada vez mais rara. Fazer ressoar o legado desse autor magistral e a qualidade visionária que ele postula tornam-se a tarefa do cinema por vir: imaginação radical.
Trabalhar com a sujeira do mundo
por Renan Eduardo
Cada um à sua forma, dois entre os nomes mais importantes do Hip Hop brasileiro dos últimos anos são aproximados por uma certa relevância que conquistaram na cena. Dez dias do mês de junho separam o lançamento dos álbuns de FBC e Don L intitulados ASSALTOS E BATIDAS e Caro Vapor II – Qual a forma de pagamento?, respectivamente. Mais do que partilharem o estilo ou o mês de lançamento, há um terceiro elemento que une estes e outros álbuns recentes (valeria citar os discos novos de Djonga, BK e Xamã): uma limitação imaginativa. Digo isso sem desacreditar por completo o trabalho desses artistas, pois há alguns anos têm demonstrado uma produção realmente interessante e inventiva. Porém, me espanta a presença constante de determinadas figuras em feats ou samples de álbuns de rap lançados nesse ano: Evinha, Djavan e Milton Nascimento são alguns entre os muitos exemplos possíveis. Se por um lado é belo ver uma geração que presta continência e respeito aos que vieram antes, por outro me parece um gesto pouco imaginativo, uma função já empoeirada, um atalho na criação e produção musical. Enquanto há mais de dez anos a aposta de Cores & Valores foi pela experimentação com sonoridades emergentes e com a descontinuidade rítmica (pensemos que Kanye West já havia feito um percurso similar em 808s & Heartbreak [2008] e Yeezus [2013]), o que a grande maioria dos rappers “da cena” tem feito é justamente o contrário, é retornar ao saudosismo, à fórmula, à cópia de algum beat, a uma citação ou a um sample que em algum tempo já deu certo, a um artista da MPB que esteja em alta. Penso que essa era já foi a aposta de FBC em OUTRO ROLÊ e BAILE, para Djonga em Heresia, para BK em Castelos & Ruínas, para Don L em Caro Vapor/Vida e Veneno, e hoje não mais. Nesse sentido, Rodrigo Ogi, Matéria-Prima, nabru, Meninsk e outros artistas parecem ter encontrado maneiras de experimentação estilística mais profícuas. Não se trata de prestar continência à certos nomes da MPB, por mais importantes que sejam/tenham sido, ou de escrever uma faixa para Kendrick e Kanye, mas sim em apostar num sample que venha de um beat disfuncional do Metá Metá ou do Kiko Dinucci, em um empoeirado vinil de jazz esquecido num sebo qualquer, em trabalhar com a sujeira do mundo antes de trabalhar com seu espaço já canônico.